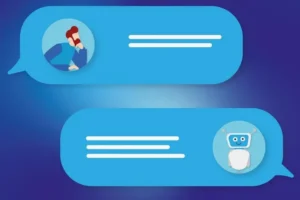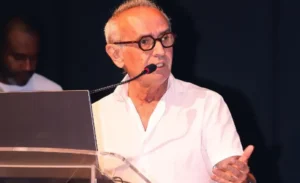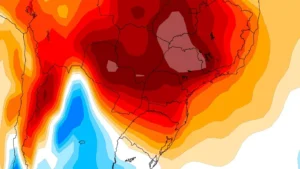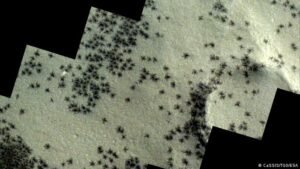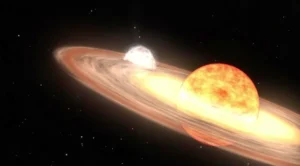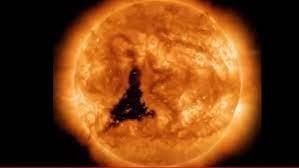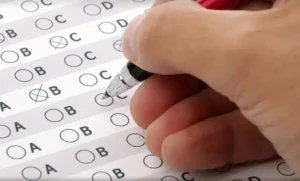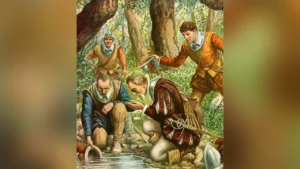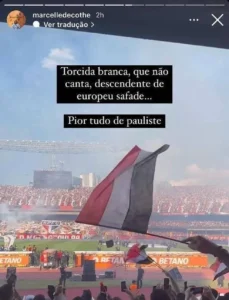“Os homens sem cabelos são os intelectuais: sua força mental e corporal são consideráveis… o cérebro domina a matéria nos calvos”, escreveu o escritor vitoriano Henry Frith em livro de 1891.
A sociedade moderna não gosta da queda de cabelo, apesar de ser algo comum em homens e mulheres: estima-se que o mercado de procedimentos de restauração capilar movimente R$ 63 bilhões até 2026.
Mas nem sempre foi assim. Em muitas culturas e períodos da história, a calvície foi reverenciada — no antigo Egito; no caso do povo de Issini (atual Gana); e até com representações calvas de Jesus e Maria na arte medieval.
Monges budistas, freiras e outros grupos políticos e religiosos também raspam rotineiramente a cabeça até hoje.
Mas no Ocidente no século 19, a calvície passou a ser celebrada por outros motivos: não pela religião, mas por motivações pseudocientíficas, ligadas a ideias preconceituosas sobre inteligência e raça.
Dez anos depois de Charles Darwin ter publicado a sua famosa tese evolucionista A Origem das Espécies em 1859, seu primo Francis Galton estendeu-a para sugerir que alguns grupos de humanos eram mais evoluídos do que outros.
Galton e outros usaram quaisquer diferenças observáveis nos seres humanos, incluindo variações na cor da pele e do cabelo, como “prova” da existência de raças humanas distintas, algumas das quais seriam supostamente superiores a outras.
Isso incluía o formato da cabeça, a pele do rosto e a quantidade de cabelo de uma pessoa.
“Os homens sem cabelos são os intelectuais: sua força mental e corporal são consideráveis… o cérebro domina a matéria nos calvos”, escreveu o escritor vitoriano Henry Frith em seu livro How to Read Character in Features, Forms and Faces (Como interpretar características em fisionomias, formas e faces, em tradução livre), de 1891.